
A maior operação anticorrupção da história do Brasil desmantelou um esquema bilionário de propinas que corroía a Petrobras e o sistema político nacional, levou à prisão centenas de executivos e políticos poderosos, e alterou para sempre a gramática institucional do país — mas o fez ao preço de comprometer as próprias garantias constitucionais que justificavam sua existência.
Surgida em março de 2014 nas entranhas do sistema financeiro paranaense, a Operação Lava Jato prometeu regenerar a República e, por anos, foi saudada como a Mani Pulite dos trópicos.
Sete anos depois, encerrou-se sob o peso de suas contradições: o juiz que a conduziu foi declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal, as condenações mais emblemáticas foram anuladas, e o réu mais célebre — Luiz Inácio Lula da Silva — retornou à Presidência da República.
O que permanece é um paradoxo que define uma era: a operação combateu a corrupção sistêmica, mas engendrou dúvidas indeléveis sobre a imparcialidade da justiça, alimentou a polarização que levou ao poder um governo de direita e deixou como herança tanto avanços legislativos reais quanto cicatrizes institucionais profundas.
Este dossiê reconstitui, a partir de fontes primárias e secundárias, a trajetória completa da Lava Jato — suas origens nas investigações de câmbio clandestino no Paraná, seu desenvolvimento vertiginoso, seu declínio jurídico e político, e seu legado ambivalente —, cotejando-a com o precedente italiano da operação Mãos Limpas e iluminando-a com as lentes da filosofia política, da literatura clássica e do direito penal contemporâneo.
Das sombras do Banestado à luz das algemas: a pré-história da operação
Toda revolução tem sua genealogia, e a Lava Jato não nasceu do nada.
Suas raízes penetram fundo no subsolo do sistema financeiro paranaense, remontando ao escândalo do Banco do Estado do Paraná — o Banestado —, cujas ramificações foram detectadas ainda nos anos 1990.
Entre 1996 e 2002, o Banestado operou como canal privilegiado para remessas ilegais ao exterior por meio das chamadas contas CC5, destinadas a não residentes.
Estimativas variam de 30 a 124 bilhões de dólares movimentados ilicitamente, cifras que revelam não uma anomalia, mas um sistema. O escândalo municipal da AMA/Comurb, em Londrina, primeiro expôs a atuação do doleiro Alberto Youssef, que desviara 120 mil reais de uma empresa municipal por meio de contas fantasmas no Banestado.
Esse fio, puxado com paciência por procuradores e delegados federais, conduziu ao novelo maior.
Em 2003, Youssef foi preso pela Polícia Federal e celebrou o que viria a ser reconhecido como o primeiro acordo de delação premiada da história do Brasil com o Ministério Público Federal, comprometendo-se a colaborar e a não reincidir. Sua cooperação resultou, em 2005, na prisão de aproximadamente sessenta doleiros.
Em agosto de 2004, o juiz federal Sérgio Moro — então lotado na 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba — proferiu 97 condenações no caso Banestado.
Contudo, a maioria sucumbiu à prescrição nos tribunais superiores: das 631 denúncias oferecidas, pouco restou em termos de punição efetiva. A frustração daquela experiência moldaria, na década seguinte, a estratégia agressiva da Lava Jato.
A lição que Moro e os procuradores extraíram do Banestado foi inequívoca: para combater a corrupção sistêmica, não bastava processar — era necessário manter a opinião pública engajada, utilizar a prisão preventiva como instrumento de pressão e impedir que a lentidão recursal esvaziasse as condenações.
O elenco humano que protagonizaria a Lava Jato já estava parcialmente definido naqueles anos: além de Moro, procuradores como Deltan Dallagnol, Januário Paludo e Carlos Fernando dos Santos Lima, e delegados federais como Erika Marena e Marcio Anselmo, todos haviam cortado os dentes nas investigações do Banestado.
A mesma continuidade valia para o outro lado: Youssef ressurgiria como personagem central uma década depois, provando que seu compromisso de não reincidir fora uma promessa escrita na areia.
O arcabouço legislativo também se preparava.
Em 2012, a Lei 12.683 ampliou a definição de lavagem de dinheiro, eliminando o rol taxativo de crimes antecedentes.
Em 2013, a Lei 12.850 — a Lei das Organizações Criminosas — introduziu formalmente o instituto da colaboração premiada, estabelecendo os mecanismos que se tornariam a mola propulsora da Lava Jato.
A Lei Anticorrupção (12.846/2013), por sua vez, criou a responsabilização objetiva de empresas por atos contra a administração pública.
Essas três legislações, todas sancionadas durante os governos petistas de Dilma Rousseff, forneceriam, ironicamente, as armas jurídicas com as quais o Partido dos Trabalhadores seria atingido de modo mais devastador.
A faísca que incendiaria o palheiro veio de uma investigação prosaica.
Em 2013, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou transações suspeitas envolvendo Carlos Habib Chater, operador de um posto de gasolina e lava a jato — o Posto da Torre — em Brasília.
Escutas telefônicas autorizadas sobre Chater revelaram, em outubro de 2013, um interlocutor desconhecido que seria identificado como o próprio Alberto Youssef.
Em janeiro de 2014, a descoberta crucial: Youssef adquirira uma Land Rover de luxo como presente para Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2012.
Era o elo que faltava — a ponte entre uma investigação de lavagem de dinheiro e a maior empresa estatal do país.
A engrenagem revelada: como funcionava o maior esquema de corrupção do Brasil
Em 17 de março de 2014, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Lava Jato, prendendo 17 pessoas em sete estados, entre elas Youssef, a doleira Nelma Kodama e Chater. Três dias depois, na segunda fase — batizada “Bidone” —, Paulo Roberto Costa foi preso, trazendo a Petrobras para o epicentro da investigação.
O nome da operação, derivado do lava a jato utilizado para circular dinheiro ilícito, revelou-se uma metáfora acidental e perfeita: tratava-se, afinal, de lavar — de dar aparência de limpeza — ao produto da corrupção.
O esquema que as delações de Costa e Youssef desnudaram possuía uma sofisticação industrial.
Um cartel de grandes empreiteiras — Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, UTC, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Engevix, Queiroz Galvão, entre outras — organizava-se para fraudar licitações da Petrobras.
Os contratos eram superfaturados entre um e três por cento, e o excedente era repartido em três direções: parte destinava-se aos diretores da estatal, politicamente nomeados pelos partidos da base aliada; parte fluía para os partidos e parlamentares que haviam indicado esses diretores; e parte remunerava os doleiros e operadores financeiros que lavavam os recursos por meio de empresas de fachada, contas offshore e operações de dólar-cabo.
A própria Petrobras estimou seus prejuízos em 6,2 bilhões de reais; o Tribunal de Contas da União elevou a cifra para 29 bilhões.
As fases sucederam-se em ritmo avassalador.
Na sétima, “Juízo Final”, em novembro de 2014, caíram executivos da Camargo Corrêa, OAS e outras construtoras.
Na décima quarta, “Erga Omnes”, em junho de 2015, Marcelo Odebrecht — presidente da maior empreiteira da América Latina — foi preso junto com Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez.
Dois meses depois, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula e figura central do escândalo do Mensalão, foi preso e condenado a 30 anos e 9 meses. O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, caiu na fase “Pixuleco” — o codinome derivava de uma gíria para propina utilizada pelo próprio Vaccari.
A operação atingiu seu clímax com a megadelação da Odebrecht, celebrada no final de 2016. Setenta e sete executivos firmaram acordos de colaboração, revelando a existência de um “Departamento de Operações Estruturadas” — a alcunha elegante para o setor de propinas da empresa — que operara em doze países, distribuindo aproximadamente 788 milhões de dólares em subornos.
A multa combinada entre Brasil, Estados Unidos e Suíça atingiu a marca recorde de 2,6 bilhões de dólares, a maior já aplicada em um caso de corrupção sob o Foreign Corrupt Practices Act.
Marcelo Odebrecht revelou a existência de uma conta denominada “Amigo”, atribuída a Lula, com saldo de 40 milhões de reais. As planilhas detalhadas de pagamentos, que ficaram conhecidas como a “delação do fim do mundo”, geraram a “Lista de Fachin”: o ministro do STF Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, autorizou a abertura de 98 inquéritos envolvendo senadores, deputados, governadores e ministros de quinze partidos.
No cômputo final, a força-tarefa de Curitiba, ao longo de quase sete anos, produziu cerca de 80 fases operacionais, 295 prisões, mais de 278 condenações em primeira instância, 156 acordos de colaboração individual e 43 acordos de leniência com empresas. Foram recuperados aproximadamente 4,3 bilhões de reais para os cofres públicos, e mais de 700 milhões de dólares foram repatriados do exterior. A cooperação internacional envolveu 41 países e 650 pedidos formais de assistência jurídica.
O terremoto político: de Dilma a Bolsonaro, a República em convulsão
Tucídides, narrando a stasis de Córcira na Guerra do Peloponeso, descreveu como as crises políticas invertem o sentido das palavras: “A audácia temerária passou a ser considerada coragem leal; a hesitação prudente, covardia especiosa; a moderação, máscara de frouxidão; a capacidade de ver todos os lados de uma questão, incapacidade de agir em qualquer deles”¹.
Essa inversão semântica operou-se no Brasil entre 2015 e 2018 com precisão quase literária. Defender o devido processo legal tornou-se sinônimo de proteger corruptos; questionar métodos investigativos, sinal de cumplicidade. A Lava Jato deixara de ser apenas uma investigação criminal para converter-se em um fenômeno político que reconfigurou a República.
A condenação de Lula pelo juiz Moro, em 12 de julho de 2017, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro — no caso do tríplex do Guarujá, supostamente recebido da construtora OAS em troca de favorecimento em contratos da Petrobras —, representou o ponto de inflexão.
Em janeiro de 2018, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmou unanimemente a condenação e elevou a pena para 12 anos e 1 mês.
Em 7 de abril de 2018, Lula entregou-se à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, após um comício carregado de emoção. Foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde permaneceria por 580 dias.
Paralelamente, o impeachment de Dilma Rousseff — embora formalmente baseado nas “pedaladas fiscais” e não em acusações diretas da Lava Jato — foi viabilizado pelo clima político que a operação engendrou.
Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados e articulador do processo de impedimento, era ele próprio alvo da Lava Jato, acusado de receber cerca de 40 milhões de dólares em propinas.
Cunha utilizou o impeachment como moeda de barganha e, quando não obteve a proteção que esperava, viu-se destituído, preso em outubro de 2016 e condenado a 15 anos e 4 meses.
A ironia era shakespeariana: o instrumento que servira para depor a presidente era, ele mesmo, réu na operação que desnudara o sistema do qual era beneficiário.
Não é exagero invocar o Júlio César de Shakespeare: tal como Bruto, que sinceramente acreditava salvar a República ao conspirar contra César mas precipitou sua destruição, os protagonistas da Lava Jato acreditaram estar regenerando a democracia brasileira — e, no entanto, suas ações produziram consequências que nenhum deles antecipou².
Em outubro de 2018, com Lula preso e inelegível pela Lei da Ficha Limpa, Jair Bolsonaro — deputado federal de direita, nostálgico do regime militar — venceu a eleição presidencial surfando a onda anticorrupção e antipetista. No dia seguinte à sua eleição, convidou Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Moro aceitou.
A nomeação representou o cruzamento da linha que separa a toga da política.
A aceitação de um cargo no governo diretamente beneficiado por suas decisões judiciais — Lula, o principal oponente de Bolsonaro, fora condenado e preso por Moro — lançou sobre toda a operação a sombra da parcialidade.
Luigi Ferrajoli, o jurista italiano cuja teoria do garantismo penal forneceu o instrumental teórico aos críticos da Lava Jato, chamou o episódio de “gravíssimo escândalo” que provocou “uma distorção patológica da dialética política e desviou o curso normal da democracia brasileira”³.
Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, preso em novembro de 2016, acumulou condenações que totalizam 342 anos de prisão — cifra que pertence mais ao domínio de Kafka do que ao do direito penal.
Michel Temer, que assumira a presidência após o impeachment de Dilma, foi brevemente preso em março de 2019, liberado por habeas corpus.
A delação de Joesley Batista, da JBS, em maio de 2017, gravando o presidente da República autorizando pagamentos de silêncio e revelando que o senador Aécio Neves recebera 2 milhões de reais em espécie, demonstrou que a corrupção não era monopólio de nenhum partido — era o código operativo do sistema político brasileiro.
O espelho italiano: Mani Pulite, a profecia não aprendida
Maquiavel advertiu, nos Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio, que “quando o material [o povo] se corrompeu, boas leis de nada servem”⁴. A advertência aplica-se tanto à Itália dos anos 1990 quanto ao Brasil de três décadas depois. A Operação Mãos Limpas — Mani Pulite — constitui o precedente histórico mais direto e mais instrutivo para compreender a Lava Jato, e a conexão entre ambas não é meramente analógica: é intencional e documentada.
Em um artigo acadêmico de 2004, publicado na Revista do Centro de Estudos Judiciários, Sérgio Moro analisou detidamente a Mani Pulite e dela extraiu lições operacionais que aplicaria sistematicamente uma década depois: a prisão preventiva como mecanismo para evidenciar a gravidade dos crimes e estimular a cooperação; a manutenção de um “fluxo constante de revelações” para sustentar o interesse público; a centralidade dos acordos de colaboração; e o reconhecimento de que a ação judicial contra a corrupção só é eficaz se apoiada na opinião pública⁵.
A Mani Pulite começou em 17 de fevereiro de 1992, em Milão, com a prisão de Mario Chiesa, dirigente socialista responsável por um asilo de idosos, flagrado aceitando uma propina de 7 milhões de liras de uma empresa de limpeza.
Bettino Craxi, líder do Partido Socialista Italiano e duas vezes primeiro-ministro, desdenhou de Chiesa, chamando-o de “mariuolo” — um trapaceiro isolado. Enfurecido pelo abandono, Chiesa começou a colaborar, desencadeando o “effetto valanga” — o efeito avalanche — que definiria toda a operação: confissões geraram novas prisões, que geraram novas confissões.
O “pool di Milano”, liderado pelo procurador-chefe Francesco Saverio Borrelli e integrado por Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo, revelou um sistema que os italianos batizaram de Tangentopoli — a Cidade das Propinas.
As semelhanças estruturais são impressionantes.
Em ambos os países, a corrupção operava por meio de propinas sobre contratos públicos, canalizadas para o financiamento de partidos políticos por intermédio de empresas estatais — a ENI na Itália, a Petrobras no Brasil.
Em ambos, um cartel de empresas privadas organizava licitações fraudulentas.
Em ambos, figuras carismáticas da magistratura — Di Pietro na Itália, Moro no Brasil — adquiriram estatura quase messiânica perante a opinião pública.
Em ambos, a operação destruiu ou gravemente danificou partidos tradicionais: a Democracia Cristã e o PSI na Itália; o PT e o MDB no Brasil. E em ambos, o vácuo político foi preenchido por figuras que representaram ameaças de outra natureza à democracia: Silvio Berlusconi na Itália, Jair Bolsonaro no Brasil.
Os números da Mani Pulite são eloquentes: até 1996, a Procuradoria de Milão produzira 2.319 requisitórios de acusação; 6.059 pessoas foram investigadas, incluindo 872 empresários e 438 parlamentares — mais da metade do Parlamento italiano. Quatro partidos do governo desapareceram. Ao menos 31 suicídios foram registrados entre 1992 e 1994, incluindo industriais e políticos proeminentes. Craxi fugiu para Hammamet, na Tunísia, onde morreu no exílio em janeiro de 2000.
Porém, as diferenças são fundamentais — e é nelas que reside a lição mais importante.
Os procuradores italianos jamais foram declarados parciais pelos tribunais; Di Pietro deixou a magistratura voluntariamente antes de ingressar na política.
Na Itália, a reação contra a Mani Pulite veio por via legislativa — Berlusconi alterou prazos prescricionais e enfraqueceu instrumentos investigativos —, não por reversão judicial das condenações.
No Brasil, o próprio STF declarou a parcialidade do juiz e anulou as sentenças mais emblemáticas.
Como observou Ferrajoli em entrevista ao Conjur em 2021: “Nada permite hipotetizar qualquer falta de imparcialidade dos juízes e procuradores italianos ou, pior, sua busca de consenso popular ou aprovação da imprensa. As evidências reunidas contra os réus italianos eram incomparavelmente mais convincentes”⁶.
O desfecho mais sombrio da comparação está no que veio depois.
Gherardo Colombo, um dos integrantes do pool de Milão, declarou no funeral de Borrelli em 2019: “Tangentopoli não mudou nada na Itália; a corrupção permaneceu, ainda que em formas diferentes”⁷.
O índice de percepção de corrupção da Itália, segundo a Transparência Internacional, permanece entre os mais baixos da Europa Ocidental. Alberto Vannucci, acadêmico que estudou sistematicamente o legado da operação, concluiu que a Mani Pulite não produziu uma melhoria da ética pública, mas uma “escalada de tensões entre os poderes político e judiciário”⁸.
A profecia, portanto, estava disponível.
O Brasil preferiu não aprendê-la.
Quando o juiz cruza a linha: a anatomia jurídica de uma parcialidade
Montesquieu, no Livro XI, Capítulo 6, de O Espírito das Leis, estabeleceu a proposição que fundamenta o Estado de Direito moderno: “Não há liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor”⁹.
A Operação Lava Jato, no que tange à conduta de seu principal magistrado, violou essa separação de modo que o Supremo Tribunal Federal, a comunidade acadêmica e o Comitê de Direitos Humanos da ONU reconheceram de forma convergente.
Em 9 de junho de 2019, o The Intercept Brasil, sob a liderança do jornalista Glenn Greenwald, publicou a primeira de uma série de reportagens baseadas em mensagens de Telegram trocadas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol.
O material, obtido pelo hacker Walter Delgatti Neto — preso em julho daquele ano —, revelou o que a defesa de diversos réus há anos alegava: a fronteira entre o juízo e a acusação havia se dissolvido.
As mensagens demonstravam que Moro sugerira alterações na ordem das fases da operação, oferecera orientações estratégicas aos procuradores, criticara o desempenho da acusação, antecipara decisões que proferiria, e comemorou com um emoji sorridente e a frase “um bom dia afinal” quando informado da denúncia contra Lula.
Mais grave ainda: Dallagnol admitira privadamente dúvidas sobre as provas contra Lula relacionadas ao esquema da Petrobras, horas antes de oferecer a denúncia no caso do tríplex. E os procuradores conspiraram para impedir uma entrevista autorizada de Lula à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, temendo que ela pudesse “eleger Haddad”¹⁰.
O percurso das decisões do STF que desmontaram a Lava Jato é tortuoso mas decisivo.
Em 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin, relator da operação na Corte, declarou monocraticamente a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos contra Lula, sob o fundamento de que os fatos imputados não guardavam relação direta com a corrupção na Petrobras — argumento que o próprio Dallagnol reconhecera nas mensagens vazadas ao chamar a conexão de “capenga”.
Fachin anulou quatro condenações e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal, restaurando simultaneamente os direitos políticos de Lula.
Em 23 de março de 2021, a Segunda Turma, por 3 votos a 2, declarou a suspeição de Moro no caso do tríplex — a ministra Cármen Lúcia alterou seu voto anterior, consolidando a maioria com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
Em abril, o Plenário confirmou a incompetência por 8 a 3 e, em junho, ratificou a suspeição por 7 a 4.
A distinção jurídica é crucial: a declaração de incompetência permite que os atos sejam ratificados por um novo juízo competente; a declaração de suspeição anula absolutamente todos os atos praticados, exigindo que os processos recomecem do zero — o que, na prática, significou a prescrição de grande parte dos casos.
A questão da presunção de inocência — inscrita no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” — percorreu um caminho sinuoso no STF.
Em fevereiro de 2016, no HC 126.292, a Corte permitiu, por 7 a 4, a execução provisória da pena após condenação em segunda instância — a tese que viabilizou a prisão de Lula em abril de 2018.
Em novembro de 2019, ao julgar o mérito das ADCs 43, 44 e 54, o Plenário reverteu a posição por 6 votos a 5, restabelecendo a exigência do trânsito em julgado.
Na manhã seguinte, Lula foi libertado.
As conduções coercitivas — medida pela qual o investigado era levado compulsoriamente à presença da autoridade — foram utilizadas centenas de vezes na Lava Jato.
A mais emblemática, em 4 de março de 2016, levou Lula sob escolta policial ao aeroporto de Congonhas, sem que houvesse sido previamente intimado ou se recusado a depor.
Em junho de 2018, o STF declarou a inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório, por 6 a 5, nas ADPFs 395 e 444.
O ministro Lewandowski observou que a medida servira “mais para amedrontar o investigado e expô-lo a publicidade degradante” do que para qualquer finalidade processual legítima.
A delação premiada, regulada pela Lei 12.850/2013, foi a engrenagem central da operação — mas operou, em muitos casos, sob a sombra da coerção.
A utilização da prisão preventiva como instrumento para extrair acordos de colaboração foi denunciada por juristas, réus e ministros do STF.
Gilmar Mendes questionou, em 2019, se a prisão preventiva prolongada com esse fim não configurava tortura. Dias Toffoli, em decisão de setembro de 2023, descreveu os métodos como “uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI“. Aury Lopes Jr., processualista penal de referência, sintetizou: “Havia um consórcio de vigilantes, com um juiz absolutamente parcial e contaminado, que estava em conluio com o Ministério Público”¹¹.
O episódio mais sintomático da espetacularização foi a coletiva de imprensa em que Dallagnol apresentou, em 14 de setembro de 2016, uma apresentação em PowerPoint colocando Lula no centro de um diagrama cercado por termos como “petrolão”, “propinocracia” e “perpetuação criminosa no poder” — acusando-o de ser o “comandante máximo” de uma organização criminosa, embora a denúncia formal se limitasse a corrupção e lavagem de dinheiro.
O STJ condenaria Dallagnol a indenizar Lula em 75 mil reais.
O relator, ministro Luís Felipe Salomão, afirmou que “a espetacularização do episódio não é compatível com a denúncia nem com a seriedade que a investigação desses fatos requer”¹².
Da ética da convicção à ética da responsabilidade: o abismo filosófico da operação
Max Weber, na célebre conferência “A Política como Vocação”, proferida em Munique em 1919, distinguiu entre a Gesinnungsethik — a ética da convicção — e a Verantwortungsethik — a ética da responsabilidade. Na primeira, o agente age conforme seus princípios absolutos e “deixa o resultado nas mãos de Deus”; na segunda, responde pelas consequências previsíveis de seus atos. Weber advertiu: “Não é verdade que do bem só resulte o bem e do mal só o mal — com frequência, ocorre exatamente o contrário. Quem não percebe isso é, politicamente, uma criança”¹³.
Os protagonistas da Lava Jato encarnaram, com precisão quase didática, a Gesinnungsethik weberiana: a convicção absoluta de que a corrupção deveria ser extirpada a qualquer custo os cegou para as consequências de seus métodos — a erosão das garantias processuais, a desestabilização democrática.
Em Medida por Medida, Shakespeare já dramatizara esse dilema: o juiz Angelo, que aplica a lei com rigor inflexível, é ele próprio corrupto. Isabella, ao suplicar por clemência, pronuncia a advertência que ecoa através dos séculos: “Oh, é excelente ter a força de um gigante; mas é tirânico usá-la como um gigante”¹⁴.
Hannah Arendt, em Eichmann em Jerusalém, cunhou o conceito da “banalidade do mal” para descrever como indivíduos comuns participam de sistemas perversos sem jamais questionar sua lógica interna: “O problema com Eichmann era precisamente que tantos eram como ele, e que tantos não eram nem pervertidos nem sádicos, mas eram, e ainda são, terrivelmente e assustadoramente normais”¹⁵.
O conceito opera em dupla direção quando aplicado à Lava Jato.
De um lado, ilumina os milhares de burocratas, engenheiros, executivos e políticos que participaram do esquema da Petrobras não por vilania excepcional, mas por rotina institucional — a propina como código operativo naturalizado.
De outro, aplica-se aos próprios agentes do sistema de justiça que, convictos de sua retidão, suspenderam o pensamento crítico sobre os meios que empregavam.
A “falha em pensar” de que fala Arendt manifesta-se tanto na corrupção sistêmica quanto no combate a ela quando este se torna cego a seus próprios excessos.
No Inferno de Dante, os barrateiros — aqueles que venderam cargos públicos em troca de vantagens privadas — são submersos em pez fervente na quinta vala do oitavo círculo, o Malebolge, vigiados pelos Malebranche, demônios de garras afiadas¹⁶.
Dante os coloca mais profundamente no Inferno do que os violentos, porque a fraude contra a confiança pública é uma traição mais grave do que a força bruta.
Os operadores do esquema da Petrobras habitariam confortavelmente essa vala dantesca. Porém, há uma ironia que o próprio Dante apreciaria: o poeta foi ele mesmo acusado de barrataria e condenado ao exílio de Florença — demonstrando, já no século XIV, como acusações de corrupção podem ser instrumentalizadas para fins políticos.
A correlação com o Caso Dreyfus, na França de 1894 a 1906, é igualmente pertinente.
Alfred Dreyfus, oficial judeu condenado por traição com base em provas fabricadas, tornou-se o símbolo da instrumentalização da justiça para fins políticos.
A sociedade francesa dividiu-se entre dreyfusards e antidreyfusards, assim como o Brasil se partiu entre defensores e críticos da Lava Jato.
Émile Zola, ao publicar “J’Accuse” em 13 de janeiro de 1898, cumpriu o papel que os jornalistas do Intercept Brasil exerceriam mais de um século depois: confrontar o poder institucional com provas de sua arbitrariedade¹⁷.
O caso Dreyfus, como observaram historiadores, reduziu-se a “uma escolha entre justiça e verdade, de um lado, e a defesa da nação, a preservação da sociedade e a superioridade do Estado, de outro” — exatamente os termos do debate sobre a Lava Jato.
Carl Schmitt, o controvertido jurista alemão, afirmou na abertura de Teologia Política que “soberano é quem decide sobre o estado de exceção”¹⁸.
A formulação ilumina a tendência da Lava Jato a operar fora das normas processuais ordinárias.
O desembargador Rômulo Pizzolatti, do TRF-4, declarou explicitamente que a operação constituía “um caso inédito, único, excepcional no direito brasileiro”, onde “surgirão situações inéditas que escapam a regras genéricas pensadas para casos comuns”.
Giorgio Agamben ampliou a tese schmittiana ao argumentar que “o estado de exceção tornou-se o paradigma dominante de governo na política contemporânea”¹⁹. Acadêmicos brasileiros, como Rubens Casara em Estado Pós-Democrático, aplicaram esse arcabouço para argumentar que a Lava Jato inaugurou um estado de exceção de fato no interior do Judiciário brasileiro — suspendendo garantias constitucionais sob o pretexto de combater uma ameaça extraordinária.
O dilema platônico do Anel de Giges ressoa aqui com força particular.
No Livro II da República, Platão narra a história de um pastor que encontra um anel que o torna invisível: “Onde quer que alguém creia poder ser injusto com segurança, ali será injusto”²⁰.
A parábola aplica-se, evidentemente, aos políticos e empresários que operaram o esquema de propinas acreditando-se invisíveis.
Mas aplica-se também — e esta é a lição mais incômoda — aos agentes da justiça que, protegidos pelo manto da autoridade judicial e pela ausência de fiscalização efetiva, atuaram como se suas comunicações privadas jamais viessem à luz.
As mensagens do Telegram reveladas pelo Intercept foram o momento em que o Anel de Giges deixou de funcionar.
O desmonte: como a maior operação anticorrupção do país foi desfeita
O encerramento da Lava Jato não foi um evento, mas um processo.
A nomeação de Augusto Aras como Procurador-Geral da República por Bolsonaro, em setembro de 2019, preterindo a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, sinalizou a mudança de ventos.
Aras centralizou o controle sobre os casos, exigiu acesso a arquivos sigilosos da força-tarefa e ameaçou procedimentos administrativos contra seus integrantes.
Deltan Dallagnol deixou a coordenação sob pressão em setembro de 2020.
O braço paulista da operação foi encerrado no mesmo mês.
A ruptura entre Moro e Bolsonaro, em 24 de abril de 2020, quando o ex-juiz renunciou ao Ministério da Justiça acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal para proteger seus filhos, selou o divórcio entre a agenda anticorrupção e o governo que dela se beneficiara.
Em 1º de fevereiro de 2021, a força-tarefa de Curitiba foi formalmente dissolvida.
Quatro dos treze procuradores foram alocados ao GAECO; os demais, redistribuídos.
A decisão de Toffoli, em setembro de 2023, anulando todas as provas obtidas dos sistemas Drousys e My Web Day B da Odebrecht e declarando-as “imprestáveis” em processos criminais, eleitorais, cíveis e de improbidade, representou o golpe mais abrangente contra o legado probatório da operação.
Toffoli descreveu a prisão de Lula como “um dos maiores erros judiciários da história do país” e “um arranjo resultante de um projeto de poder de determinados agentes públicos”.
Em abril de 2022, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, analisando comunicação apresentada por Lula em 2016, concluiu, por 15 votos a 2, que o Brasil violara os artigos 9(1), 14(1) e (2), 17 e 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos — encontrando que a condução coercitiva violara o direito à liberdade, as escutas e sua divulgação violaram o direito à privacidade, a conduta de Moro violou o direito a um tribunal imparcial, e as declarações de procuradores e do juiz violaram a presunção de inocência²¹.
O que permanece e o que se perdeu: o legado ambivalente da Lava Jato

O garantismo penal de Luigi Ferrajoli — sistematizado em Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal — postula que a legitimidade do sistema penal não reside em seus resultados, mas na adesão às garantias processuais que protegem os direitos individuais²².
O modelo garantista insiste que as garantias existem precisamente para os casos excepcionais — e que o “estado de exceção” no processo penal é o caminho para a justiça autoritária.
A trajetória da Lava Jato oferece uma demonstração empírica dessa tese.
Contudo, o legado não é inteiramente negativo.
A operação produziu transformações institucionais reais.
A Lei das Estatais, de 2016, introduziu requisitos de governança para empresas públicas, proibindo a nomeação de dirigentes sem qualificação técnica e exigindo programas de compliance — uma resposta direta ao escândalo da Petrobras.
O mercado brasileiro de compliance corporativo experimentou crescimento exponencial: segundo pesquisa da Deloitte, 70% das empresas haviam adotado diretrizes anticorrupção até 2022, contra 40% em 2016.
A Petrobras reformou profundamente sua governança, substituiu seu Conselho de Administração e sua Diretoria Executiva, adotou políticas de aprovação por “quatro olhos” e recuperou mais de 5,3 bilhões de reais por meio de acordos de colaboração e leniência.
No plano econômico, porém, os custos foram devastadores.
A Fundação Getulio Vargas estimou que a operação reduziu o PIB em aproximadamente 3,5% ao ano entre 2014 e 2017.
O DIEESE atribuiu 4,4 milhões de empregos perdidos aos efeitos econômicos da Lava Jato, com o setor da construção civil perdendo 1,1 milhão de postos.
A Odebrecht, rebatizada Novonor, solicitou recuperação judicial com dívidas de 13 bilhões de dólares; sua subsidiária de engenharia, a OEC, buscou reestruturar 90 bilhões de reais em passivos em 2024.
O déficit de infraestrutura do país se aprofundou — o Fórum Econômico Mundial classificou o Brasil em 108º lugar entre 137 economias em qualidade de infraestrutura.
Críticos argumentam que os 172,2 bilhões de reais em investimentos perdidos equivalem a quarenta vezes o valor recuperado pela força-tarefa.
A cultura política brasileira foi permanentemente alterada.
Jessé Souza, em A Elite do Atraso: Da Escravidão à Lava Jato, argumenta que a operação serviu como instrumento de lawfare — “o uso estratégico do direito com o propósito de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo” — por parte de uma elite que instrumentalizou o discurso anticorrupção para destruir projetos políticos de inclusão social²³.
O sociólogo sustenta que “nossa corrupção real, a grande fraude que torna impossível a redenção do Brasil esquecido e humilhado, está alhures e é construída por outras forças”. Vladimir Safatle, filósofo da Universidade de São Paulo, ofereceu uma crítica convergente, situando a Lava Jato no interior de uma “modernização autoritária” que subordinou a justiça a interesses geopolíticos e econômicos.
Do outro lado do debate, defensores da operação apontam que a corrupção revelada era real e massiva — bilhões de reais desviados em um país com carências elementares de saúde, educação e infraestrutura.
O documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa — indicado ao Oscar e vencedor do Peabody Award —, e a série O Mecanismo, de José Padilha na Netflix, cristalizaram as narrativas opostas no imaginário coletivo.
A polarização que a Lava Jato simultaneamente revelou e aprofundou permanece como o dado mais duradouro da política brasileira contemporânea.
Dossiê de uma democracia testada: as lições que ficam

Tocqueville, em A Democracia na América, advertiu sobre a “tirania da maioria” — o fenômeno pelo qual o apoio esmagador da opinião pública pode sufocar vozes dissidentes e permitir excessos que, em circunstâncias normais, seriam contestados²⁴.
Quando mais de 80% dos brasileiros apoiavam a Lava Jato, aqueles que questionavam seus métodos — juristas, intelectuais, advogados — eram silenciados pelo que Tocqueville chamou de “império moral” da opinião majoritária.
A lição é que o apoio popular não confere legitimidade jurídica; o devido processo existe para proteger precisamente aqueles que a maioria deseja punir.
Norberto Bobbio insistiu que a democracia se define não por seus resultados, mas por seus procedimentos — as “regras do jogo” que devem ser respeitadas independentemente dos fins substantivos perseguidos²⁵.
Se a Lava Jato comprovou alguma coisa, foi que meios ilícitos corroem a legitimidade de fins legítimos.
A Roma republicana oferece a parábola definitiva: Cícero, ao executar os conspirados catilinários sem julgamento, acreditou salvar a República — mas seu precedente de ação extralegal foi utilizado contra ele próprio, e a República que pretendera preservar sucumbiu mesmo assim. Salústio, ao narrar a corrupção romana, pôs na boca do rei numídio Jugurta a frase que atravessa milênios: “Romae omnia venalia esse” — “Em Roma, tudo está à venda”²⁶.
O paradoxo central da Operação Lava Jato reside em sua dupla natureza.
Ela revelou e combateu uma corrupção sistêmica de proporções colossais, devolveu bilhões aos cofres públicos, impulsionou avanços legislativos e institucionais reais e inscreveu no imaginário coletivo a ideia — antes inimaginável — de que poderosos poderiam ser responsabilizados.
Simultaneamente, comprometeu as garantias constitucionais que distinguem o Estado de Direito do arbítrio, alimentou a instrumentalização política da justiça e deixou como herança uma sociedade fraturada e instituições desacreditadas.
Weber, ao final de “A Política como Vocação”, oferece a síntese que talvez melhor defina o dilema: “A ética da convicção e a ética da responsabilidade não são antíteses absolutas, mas complementos, e somente juntas constituem o ser humano autêntico que pode ter vocação para a política”²⁷.
A Lava Jato fracassou precisamente porque seus protagonistas não souberam — ou não quiseram — integrar a convicção com a responsabilidade. A convicção, sozinha, degenera em fanatismo; a responsabilidade, sozinha, em cinismo. O Brasil precisava — e ainda precisa — de ambas.
A tragédia da Lava Jato, em última análise, não é que tenha existido, mas que não tenha sido melhor.
Uma investigação que respeitasse integralmente as garantias processuais, que mantivesse a imparcialidade do juízo, que resistisse à tentação do espetáculo midiático e que se recusasse a cruzar a linha entre a toga e a política teria produzido resultados igualmente significativos — e duradouros.
O que se perdeu não foi apenas a validade jurídica das condenações, mas a credibilidade de uma promessa: a de que, no Brasil, a lei poderia ser igual para todos.
Restaurar essa credibilidade é a tarefa da próxima geração — e ela exigirá não menos coragem do que a Lava Jato demandou, mas uma coragem de natureza distinta: a coragem de combater a corrupção sem se corromper pelo combate.
Notas
¹ Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, Livro III, 82 (trad. do grego por Mário da Gama Kury, Brasília: Editora UnB, 4ª ed., 2001).
² William Shakespeare, Júlio César (c. 1599), Ato III, Cena 2.
³ Luigi Ferrajoli, entrevista ao Consultor Jurídico (ConJur), 24 de abril de 2021.
⁴ Nicolau Maquiavel, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio (1531), Livro I, Capítulo 18.
⁵ Sérgio Fernando Moro, “Considerações sobre a Operação Mani Pulite”, Revista do Centro de Estudos Judiciários, Brasília, nº 26, pp. 56-62, jul./set. 2004.
⁶ Luigi Ferrajoli, entrevista ao Consultor Jurídico (ConJur), 24 de abril de 2021.
⁷ Gherardo Colombo, discurso fúnebre por ocasião do falecimento de Francesco Saverio Borrelli, 2019.
⁸ Alberto Vannucci, “The Controversial Legacy of ‘Mani Pulite’: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption Policies”, Bulletin of Italian Politics, vol. 1, nº 2, pp. 233-264, 2009.
⁹ Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, O Espírito das Leis (1748), Livro XI, Capítulo 6.
¹⁰ The Intercept Brasil, “As Mensagens Secretas da Lava Jato”, série iniciada em 9 de junho de 2019. Reportagens verificadas independentemente pela Folha de S.Paulo (23 de junho de 2019) e pela revista Veja (12 de junho de 2019, análise de 649.551 mensagens).
¹¹ Aury Lopes Jr., citado em análise sobre a decisão do STF de declaração de suspeição de Moro. Cf. também: Direito Processual Penal, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2020.
¹² STJ, 4ª Turma, REsp 1.842.613, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22 de março de 2022, votação 4-1.
¹³ Max Weber, “A Política como Vocação” (Politik als Beruf), conferência proferida em Munique, 1919. In: Ciência e Política: Duas Vocações (trad. Leonidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota, São Paulo: Cultrix, 2011).
¹⁴ William Shakespeare, Medida por Medida (c. 1604), Ato II, Cena 2, versos 107-109.
¹⁵ Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém: Um Relato sobre a Banalidade do Mal (1963), Epílogo, p. 252 (ed. Penguin Classics).
¹⁶ Dante Alighieri, A Divina Comédia: Inferno, Cantos XXI-XXIII (oitavo círculo, quinta vala do Malebolge).
¹⁷ Émile Zola, “J’Accuse…!”, L’Aurore, 13 de janeiro de 1898.
¹⁸ Carl Schmitt, Teologia Política (1922), Capítulo 1.
¹⁹ Giorgio Agamben, Estado de Exceção (Stato di eccezione, 2003; trad. bras. São Paulo: Boitempo, 2004).
²⁰ Platão, A República, Livro II, 360c (trad. de Benjamin Jowett).
²¹ Comitê de Direitos Humanos da ONU, Comunicação nº 2841/2016, Lula da Silva v. Brasil, decisão publicada em 28 de abril de 2022 (violações dos artigos 9(1), 14(1) e (2), 17 e 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos).
²² Luigi Ferrajoli, Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal (Diritto e ragione: teoria del garantismo penale, 1989). Edição brasileira: trad. Ana Paula Zomer Sica et al., 3ª ed. rev., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
²³ Jessé Souza, A Elite do Atraso: Da Escravidão à Lava Jato, Rio de Janeiro: Leya, 2017; cf. também A Guerra contra o Brasil, São Paulo: Estação Brasil, 2020. A definição de lawfare é de Cristiano Zanin Martins, Valeska Teixeira Zanin Martins e Rafael Valim, Lawfare: Waging War through Law, Londres: Routledge, 2020.
²⁴ Alexis de Tocqueville, A Democracia na América (1835), Volume I, Parte 2, Capítulo 8: “Da tirania da maioria”.
²⁵ Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia (Il futuro della democrazia, 1984; trad. bras. São Paulo: Paz e Terra, 2000).
²⁶ Salústio, A Guerra de Jugurta (Bellum Iugurthinum), 8.1: “Romae omnia venalia esse” (c. 40 a.C.). Cf. também Marco Túlio Cícero, Catilinárias (In Catilinam), Primeira Oração, 63 a.C.
²⁷ Max Weber, “A Política como Vocação” (Politik als Beruf), 1919.
Decisões judiciais citadas: STF, ADPFs 395 e 444 (14/6/2018, 6-5); HC 126.292 (17/2/2016, 7-4); ADCs 43, 44 e 54 (7/11/2019, 6-5); HC 152.752 (4/4/2018, 6-5); HC 193.726 (8/3/2021, monocrática, Min. Fachin; 15/4/2021, Plenário, 8-3); HC 164.493 (23/3/2021, 2ª Turma, 3-2; Plenário, 22/4/2021-23/6/2021, 7-4); RCL 43.007 (6/9/2023, Min. Toffoli).

Fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS

Controle interno na Administração Pública e Tribunais de Contas: o guia completo

Campanhas de boicote a eventos culturais constituem ato ilícito? A vedação ao efeito Inibidor…

Violência vicária e perspectiva de gênero
Hey,
o que você achou deste conteúdo? Conte nos comentários.



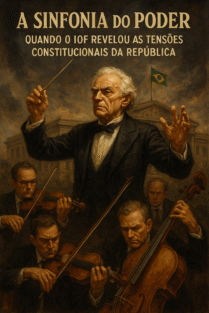
![Direito Constitucional: Assuntos centrais para repescagem na OAB [Pedido do leitor]](https://diariojurista.com.br/wp-content/uploads/2019/10/roteiro-min-556x311.png)