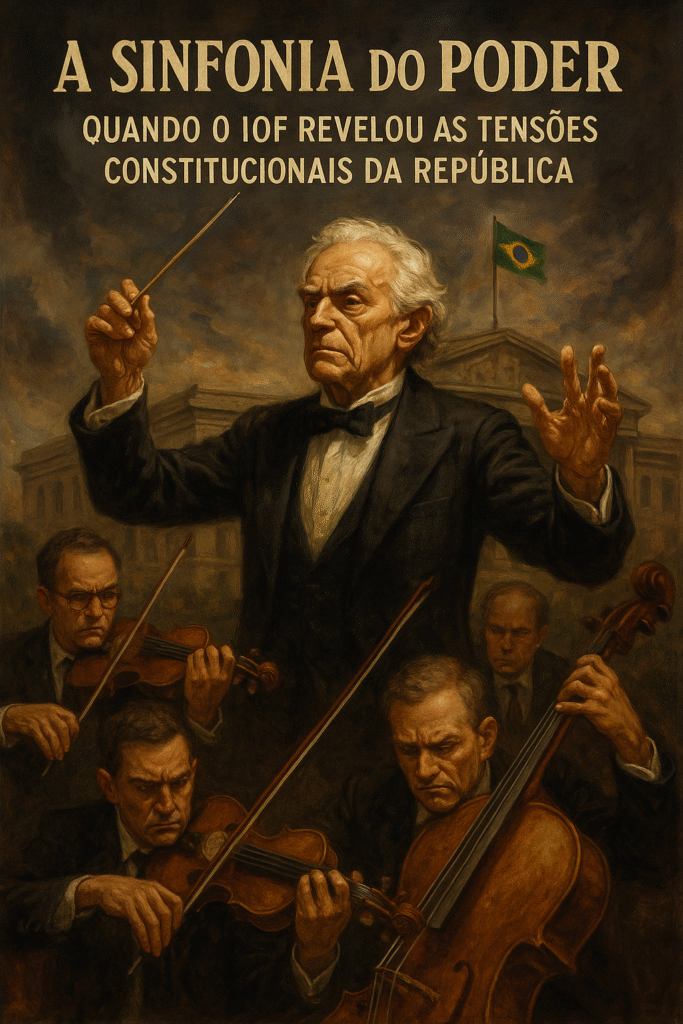
A decisão do Ministro Alexandre de Moraes nas ADIs 7827, 7839 e ADC 96 emerge como um momento shakespeariano na história constitucional brasileira, um drama em três atos no qual Executivo, Legislativo e Judiciário executam uma coreografia complexa em torno da natureza do poder tributário. Como em Rei Lear, quando as filhas disputam o reino do pai envelhecido, aqui testemunhamos poderes constitucionais disputando os limites de suas prerrogativas, com o IOF servindo de catalisador para questões fundamentais sobre a arquitetura democrática nacional.
A controvérsia nasceu de uma sequência de eventos que expõe a psicologia institucional brasileira em sua mais crua realidade. Em maio de 2025, pressionado por metas fiscais e déficits crescentes, o governo federal editou os Decretos 12.466 e 12.467, majorando drasticamente as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. As elevações foram expressivas: para pessoas jurídicas, as alíquotas saltaram de 0,38% para 0,95%, enquanto operações de câmbio foram unificadas em 3,5%, aumentos que representavam arrecadação adicional projetada de R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.
O Congresso Nacional, percebendo o que considerou um desvio da finalidade constitucional do IOF, reagiu com o Decreto Legislativo 176/2025, sustando os atos presidenciais. A justificativa parlamentar ecoava a antiga sabedoria aristotélica sobre o equilíbrio entre as formas de governo: o poder executivo estaria extrapolando sua competência constitucional ao utilizar um tributo de natureza regulatória para fins puramente arrecadatórios.
A natureza extrafiscal do IOF: entre Bentham e a realidade constitucional
Para compreender a profundidade da controvérsia, é essencial revisitar a natureza constitucional do IOF. Como bem observou Jeremy Bentham em seus escritos sobre utilidade social, os tributos devem servir não apenas à arrecadação, mas ao bem comum por meio da regulação comportamental. No Brasil, o artigo 153, §1º da Constituição Federal corporifica essa visão ao permitir que o Executivo altere as alíquotas do IOF sem submissão ao Legislativo, criando uma exceção ao princípio da legalidade tributária.
Essa exceção constitucional fundamenta-se na natureza eminentemente extrafiscal do tributo, conforme consolidado pela jurisprudência do STF. O leading case RE 590.186-RG estabeleceu que o IOF foi “gestado como importante instrumento de regulação do mercado financeiro e da política monetária”, justificando a mitigação dos princípios da legalidade e anterioridade tributárias. A doutrina de Hugo de Brito Machado reforça esse entendimento ao exigir que os aumentos de alíquota sejam “devidamente fundamentados” em sua finalidade regulatória.
Contudo, a utilização do IOF em 2025 apresentava características que sugeriam desvio dessa finalidade constitucional. As declarações públicas do Ministério da Fazenda defendendo a medida como necessária para “atingir a meta fiscal” e “equilibrar as contas públicas” criaram fundada dúvida sobre a legitimidade constitucional dos decretos. Como diria Maquiavel em O Príncipe, o poder pode ser exercido de forma aparentemente legítima enquanto serve a propósitos que corrompem sua essência.
A psicologia do conflito institucional: freios, contrapesos e ressentimentos
A reação congressual ao aumento do IOF revela aspectos psicológicos profundos da dinâmica entre poderes. Carl Jung observou que nas relações humanas — e, por extensão, institucionais — o conflito muitas vezes surge não da discordância substantiva, mas da percepção de desrespeito ou usurpação. O Congresso Nacional, ao editar o Decreto Legislativo 176/2025, não apenas contestava a legalidade dos decretos presidenciais, mas afirmava sua dignidade institucional diante do que percebia como manobra fiscal disfarçada de regulação econômica.
A sustação parlamentar, contudo, esbarrava em limitações constitucionais fundamentais. O artigo 49, V da Constituição permite ao Congresso sustar atos do Executivo que “exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”. A questão central residia em determinar se os decretos do IOF constituíam exercício de poder regulamentar (passível de sustação) ou competência constitucional direta (insuscetível de controle parlamentar).
A resposta a essa questão ecoa os dilemas filosóficos sobre a natureza do poder explorados por Michel Foucault em seus estudos sobre a microfísica do poder. O poder não é apenas substância que se possui, mas relação que se estabelece por meio de práticas institucionais específicas. No caso do IOF, a competência presidencial para alterar alíquotas representa poder constitucional direto, não delegado, diferenciando-se qualitativamente do poder regulamentar ordinário.
A sabedoria salomônica de Moraes: suspensão simétrica e diálogo constitucional
Diante desse impasse constitucional, a decisão de Alexandre de Moraes revela sofisticação procedimental que transcende a mera adjudicação jurídica. Como o rei Salomão diante das duas mulheres disputando a maternidade da criança, Moraes propôs uma solução que testaria a verdadeira natureza das motivações de cada poder: a suspensão simétrica de todos os atos controvertidos e a convocação de audiência de conciliação.
A suspensão simétrica (paralisando tanto os decretos presidenciais quanto o decreto legislativo) constitui inovação procedimental de notável elegância constitucional. Essa técnica reconhece que, em conflitos entre poderes constitucionais, a neutralidade judicial exige não privilegiar aprioristicamente nenhuma das posições em confronto. Como observaria Alexis de Tocqueville sobre as instituições democráticas americanas, a legitimidade do Judiciário deriva não de sua superioridade intelectual ou moral, mas de sua capacidade de criar procedimentos que honrem as prerrogativas de todos os poderes constitucionais.
A convocação da audiência de conciliação representa uma evolução ainda mais significativa na prática constitucional brasileira. Inspirando-se na tradição socrática do diálogo como método de descoberta da verdade, Moraes reconhece que certas questões constitucionais não se resolvem por meio da imposição judicial unilateral, mas da criação de espaços institucionais onde diferentes formas de conhecimento e legitimidade podem interagir produtivamente.
Desvio de Finalidade: A Corrupção Sutil do Poder Tributário
A análise do eventual desvio de finalidade nos decretos do IOF exige compreensão sofisticada sobre os limites constitucionais da discricionariedade administrativa. Como ensina a doutrina clássica de Celso Antônio Bandeira de Mello, o desvio de finalidade configura vício que “consiste na busca, pelo agente, de finalidade alheia àquela que a lei lhe consignou”, representando forma sutil de corrupção do poder público.
No caso específico, a utilização do IOF para equilibrar as contas públicas, em vez de regular os mercados financeiros, sugeria essa forma de desvio. As projeções de arrecadação adicional de dezenas de bilhões de reais, combinadas com declarações públicas enfatizando objetivos fiscais, criavam presunção razoável de que a finalidade regulatória havia sido secundarizada em favor de propósitos puramente arrecadatórios.
Essa análise ecoa as reflexões de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal: a corrupção do poder público frequentemente não resulta de intenções malévolas explícitas, mas da naturalização de práticas que subvertem gradualmente os propósitos institucionais. A utilização fiscal de tributos extrafiscais representa precisamente esse tipo de erosão constitucional silenciosa.
A doutrina de Ricardo Lobo Torres sobre segurança jurídica tributária oferece critérios objetivos para identificar esse desvio. A extrafiscalidade exige transparência de propósitos, previsibilidade de aplicação e proporcionalidade entre meios e fins regulatórios. A majoração indiscriminada de alíquotas sem fundamentação regulatória específica viola esses parâmetros, justificando a intervenção judicial.
A Audiência de Conciliação: Rousseau e o Contrato Social Renovado
A designação de audiência de conciliação para o dia 15 de julho de 2025 representa talvez a inovação mais significativa da decisão de Moraes. Essa medida transcende o expediente processual para constituir verdadeiro exercício de democracia deliberativa, ecoando os ideais rousseaunianos sobre a vontade geral emergindo do confronto argumentativo entre posições divergentes.
A audiência cria oportunidade para que Executivo e Legislativo exponham suas razões constitucionais diante do Judiciário, permitindo que a solução jurídica emerja do diálogo interinstitucional em vez da imposição judicial unilateral. Essa abordagem reconhece que, em questões constitucionais complexas, a legitimidade da decisão judicial depende não apenas de sua correção técnica, mas de sua capacidade de honrar as prerrogativas democráticas de todos os poderes envolvidos.
A medida também revela compreensão psicológica sofisticada sobre a dinâmica do conflito institucional. Como observam os estudos contemporâneos sobre resolução de disputas, o processo de diálogo estruturado frequentemente produz soluções mais duradouras e legítimas do que a adjudicação adversarial, mesmo quando esta última é tecnicamente correta.
O Precedente como Arquitetura Constitucional
A decisão de Moraes estabelece precedentes que transcendem o caso específico do IOF para influenciar a evolução futura da separação de poderes brasileira. A técnica da suspensão simétrica pode ser aplicada a outros conflitos interinstitucionais, oferecendo alternativa à tradicional adjudicação que frequentemente deixa um dos poderes como “perdedor” institucional.
A institucionalização do diálogo por meio da audiência de conciliação também cria modelo procedimental replicável para questões constitucionais complexas. Essa inovação posiciona o STF não apenas como árbitro final dos conflitos constitucionais, mas como arquiteto institucional de procedimentos que fortalecem a democracia por meio do diálogo estruturado entre poderes.
O precedente também esclarece os limites do poder de sustação parlamentar, estabelecendo que decretos autônomos (baseados em competência constitucional direta) não se submetem ao controle repressivo do Congresso Nacional. Essa distinção fortalece a autonomia executiva em áreas de competência privativa, ao mesmo tempo em que preserva o controle parlamentar sobre o exercício do poder regulamentar propriamente dito.
Conclusão: A Constituição como Obra Inacabada
A decisão do Ministro Alexandre de Moraes no caso IOF confirma que a Constituição não é texto cristalizado, mas obra permanentemente inacabada que se completa por meio da prática institucional cotidiana. Como em Dom Quixote, onde Cervantes explora a tensão entre ideais elevados e realidade complexa, a decisão navega entre os princípios constitucionais abstratos e as necessidades concretas de governança democrática.
A verdadeira grandeza da decisão reside não na imposição de uma verdade jurídica específica, mas na criação de procedimentos que permitem à própria democracia encontrar suas soluções por meio do diálogo entre poderes constitucionais. A audiência de conciliação emerge como metáfora da democracia ideal: espaço onde diferentes formas de conhecimento e legitimidade se encontram para construir consensos que honrem tanto a expertise técnica quanto a vontade popular.
Essa abordagem confirma que a mais elevada função do Supremo Tribunal Federal não consiste em impor suas razões aos demais poderes, mas em criar condições institucionais para que as razões democráticas possam emergir e florescer. A decisão de Moraes demonstra que a maturidade constitucional brasileira reside não na rigidez doutrinal, mas na capacidade de adaptar princípios permanentes às circunstâncias históricas específicas, sempre preservando o núcleo essencial da dignidade democrática.
No final, como observaria Montaigne em seus Ensaios, a sabedoria política consiste não em possuir respostas definitivas para todas as questões, mas em saber fazer as perguntas certas e criar espaços onde essas perguntas possam ser honestamente enfrentadas. A decisão de Alexandre de Moraes oferece precisamente isso: uma pergunta bem formulada sobre os limites do poder em uma democracia constitucional e um procedimento digno para buscar sua resposta.
Clique aqui para ler a Decisão na íntegra.
Henrique Araújo é professor de Direito Constitucional, Especialista em Direito Público e Ex-aluno Especial do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Sergipe (PRODIR-UFS).

Lava Jato: anatomia de uma promessa que devorou a si mesma

Fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS

Controle interno na Administração Pública e Tribunais de Contas: o guia completo

Campanhas de boicote a eventos culturais constituem ato ilícito? A vedação ao efeito Inibidor…
Hey,
o que você achou deste conteúdo? Conte nos comentários.




![Direito Constitucional: Assuntos centrais para repescagem na OAB [Pedido do leitor]](https://diariojurista.com.br/wp-content/uploads/2019/10/roteiro-min-556x311.png)